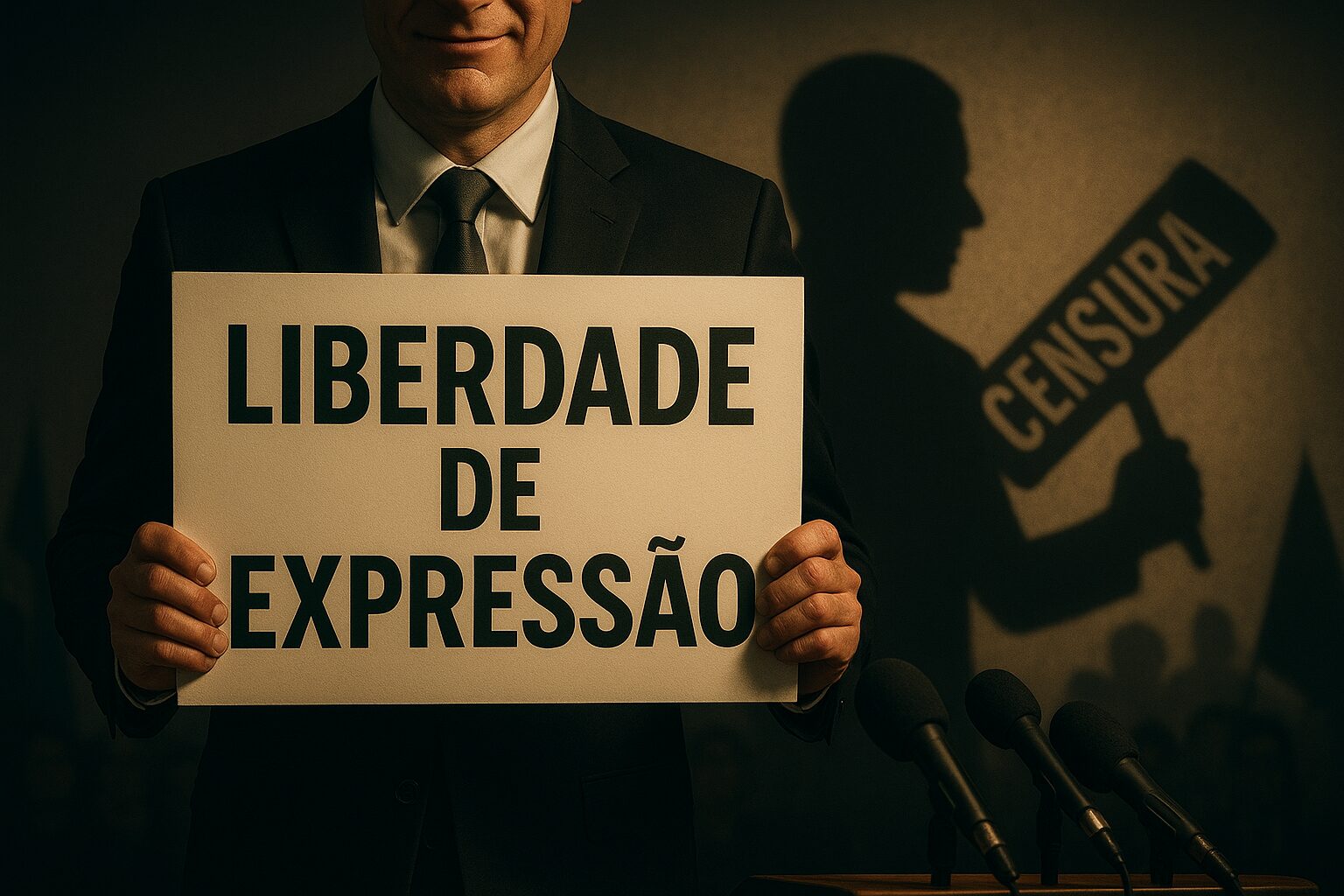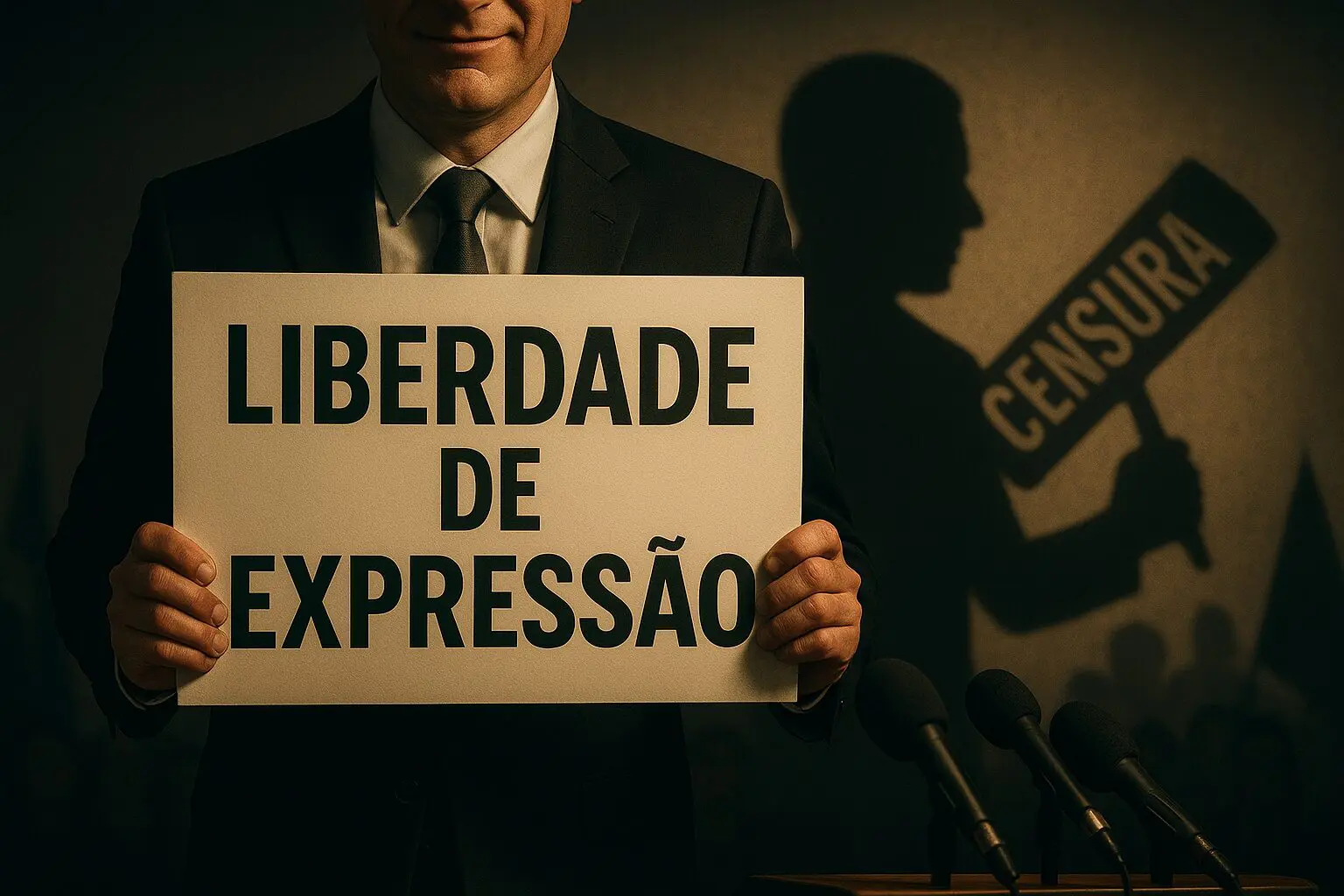
Ouça este conteúdo
Não aconteceu em Moscou, Pequim ou Havana, conhecidas pelo ambiente autoritário e censura. A cena deu-se em Bruxelas, capital da Bélgica e autoproclamada capital da “Europa dos direitos”. Em plena luz do dia, dois ativistas pacíficos – Chris Elston, conhecido como “Billboard Chris”, e Lois McLatchie Miller, ligada à ADF International – foram detidos pela polícia enquanto faziam algo que, até outro dia, era símbolo da civilização ocidental: conversar em praça pública sobre temas controversos.
O cenário, em si, é prosaico: cartazes com dizeres como “Crianças não podem consentir com bloqueadores da puberdade” e “Crianças nunca nascem no corpo errado”, uma câmera simples, entrevistas de rua, meia dúzia de transeuntes dispostos a falar. Prosaico, não fosse o fato de que a mera crítica ao uso de bloqueadores de puberdade em crianças se tornou, para certos setores, uma espécie de blasfêmia secular, e alvo de censura. A contradição atinge o seu extremo quando a própria Lois, após sofrer intimidações e ameaças contra a sua integridade física, decide acionar a polícia – e acaba, ela mesma, sendo conduzida pelos agentes do Estado, tendo seus cartazes destruídos, ao passo que aqueles que a hostilizavam permanecem ilesos e, ao que tudo indica, invisíveis ao rigor da lei.
Se isso não acende um alerta sobre o rumo da liberdade de expressão na Europa, é porque o sensor da civilização já foi desligado. A mensagem subliminar é inegável: há temas que você só pode tocar se estiver disposto a sair da rua direto para a delegacia. Quem discorda não é apenas “conservador” ou “tradicional”: passa a ser suspeito de ódio, um herege político a ser exposto, intimidado e, se possível, silenciado e censurado.
Não é por acaso que um cartaz afirmando que “crianças não podem consentir com bloqueadores de puberdade” desperte fúrias tão desproporcionais. A frase não apela à violência, não incita linchamento, não prega a desumanização de ninguém. É um juízo sensato e prudencial sobre políticas médicas dirigidas a menores de idade. Em qualquer sociedade minimamente lúcida, isso seria objeto de debate. Em Bruxelas, virou motivo para algemas.
Toda vez que uma sociedade admite que a autoridade possa definir, em bloco, quais opiniões são 'aceitáveis' e quais são 'perigosas demais' para circular, o resultado é invariável: empobrecimento intelectual, infantilização do cidadão e, mais cedo ou mais tarde, violência real
O aspecto mais grave é que, nesse campo, não estamos lidando com uma cruzada obscurantista contra “a ciência”, mas exatamente com o contrário: com a censura e o silenciamento crescente de vozes que apontam incertezas científicas reais. Relatórios oficiais e pesquisas independentes, em vários países europeus – como a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a França e o Reino Unido – vêm reconhecendo que o uso de bloqueadores de puberdade e hormônios cruzados em crianças e adolescentes levanta sérias dúvidas quanto aos seus efeitos de longo prazo, à fertilidade, ao desenvolvimento ósseo e à saúde mental. Traduzindo em linguagem direta: não se sabe, com a segurança publicitária que se tenta vender ao público, o que exatamente essas intervenções causarão, em massa, daqui a vinte ou trinta anos.
Como já alertava a escritora e filósofa Ayn Rand, “você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade.” Assim, diante de um quadro de incerteza, a atitude racional seria ampliar o debate, abrir espaço para mais contraditório, ouvir ponderações, cautelas e sérias reservas apresentadas pelas variadas escolas médicas. O que temos visto, no entanto, é o oposto: em vez de discussão, intimidação; em vez de argumento, rótulo; em vez de evidência, campanha moral. Quem ousa levantar questões incômodas não recebe uma resposta fundamentada – recebe a pecha de “transfóbico” e corre o risco muito concreto de ver sua opinião transformada em caso de polícia.
O método é conhecido e antigo. Primeiro, declara-se que certas teses estão “além da discussão”, substituindo o diálogo pela bula ideológica. Em seguida, rotula-se qualquer divergente como perigoso – “extremista”, “negacionista”, “disseminador de ódio”. Por fim, cria-se um ambiente em que o custo social e jurídico de falar é tão alto que a maioria prefere calar. O resultado não é consenso, mas medo e censura. Não é pacificação, mas uma tensão social mantida soterrada à custa do silenciamento do dissenso.
Ou há liberdade de expressão para todos – dentro dos limites já consagrados de vedação à incitação à violência, à difamação e às ameaças concretas –, ou não há liberdade verdadeira para ninguém. Quando o Estado começa a punir quem critica determinadas políticas públicas, abre-se uma porta que dificilmente se fecha. E, quando essa lógica se estabelece, o tema a ser sufocado é apenas uma questão de pauta do dia.
O mais inquietante é que tudo isso não ocorre em regimes que se confessam autoritários, mas em democracias consolidadas, e vem embalado pela retórica sedutora de “combater o discurso de ódio” e “proteger grupos vulneráveis” – ignorando, porém, a vulnerabilidade das próprias crianças submetidas a esse tipo de experimentação médica. A tentação totalitária do século XXI não se apresenta com botas e suásticas, mas com resoluções administrativas e vigilância moral permanente nas redes sociais. Os novos censores não queimam livros em praça pública; preferem desmonetizar canais, derrubar perfis, restringir o alcance de conteúdos e, quando isso não basta, levar para a delegacia quem ousa escapar do script.
Sempre em nome de um bem superior, sempre falando a linguagem da compaixão. Mas convém lembrar que as piores experiências políticas do século XX também vieram embaladas em promessas de redenção social. Toda vez que uma sociedade admite que a autoridade possa definir, em bloco, quais opiniões são “aceitáveis” e quais são “perigosas demais” para circular, o resultado é invariável: empobrecimento intelectual, infantilização do cidadão e, mais cedo ou mais tarde, violência real – não no discurso, mas na vida das pessoas.
Bruxelas nos oferece hoje um aviso: é possível abandonar o legado da civilização ocidental – a confiança na razão, no debate respeitoso e na consciência individual – não por meio de golpes espetaculares, mas por uma sequência de pequenos gestos “bem-intencionados” que vão estreitando o espaço do dissenso até transformá-lo em delito. Se a Europa, berço de tantas lutas por liberdade, se acostumar à ideia de que certas opiniões merecem censura e algemas, não será apenas um problema belga; será um sintoma de declínio civilizacional.
Quando cedemos o direito de dizer “não” ao consenso do dia, sacrificamos mais do que uma opinião incômoda. Abrimos mão da própria possibilidade de buscarmos, em comum, aquilo que ainda ousamos chamar de verdade.
André Fagundes é doutorando em Direito Público e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É também professor na pós-graduação em Direito Religioso na UniEvangélica/IBDR, pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE) e jurista aliado da Alliance Defending Freedom (ADF International).
Conteúdo editado por: Jocelaine Santos