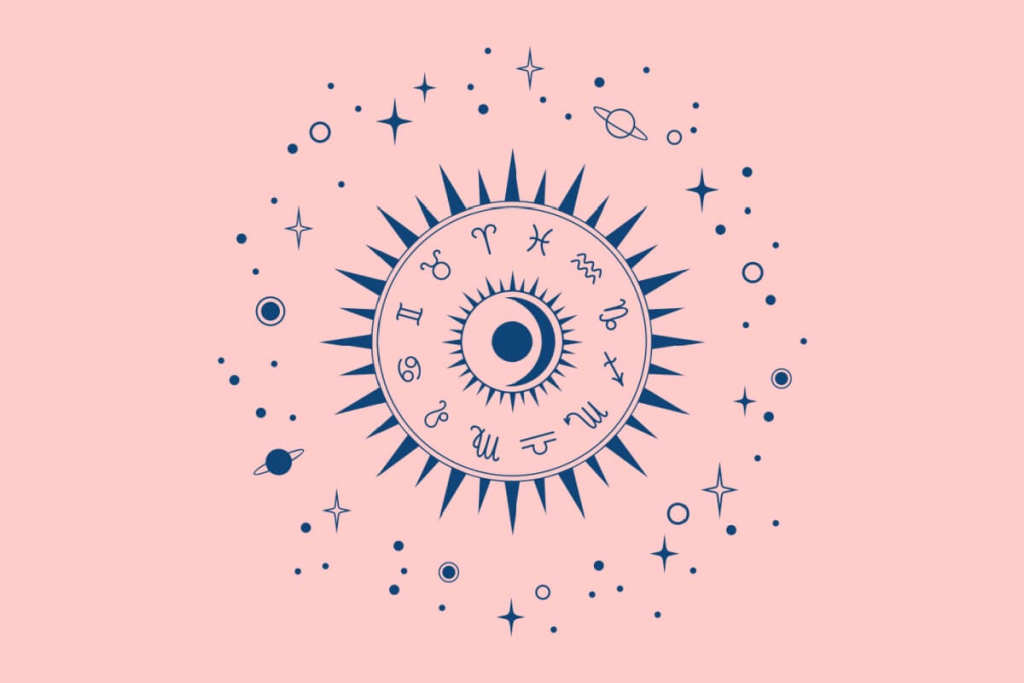Ouça este conteúdo
Há mais de dez anos escrevo semanalmente por aqui. Tem uma coisa que se descobre quando se escreve tanto e por tanto tempo: que as coisas que parecem desconexas, no fim, formam um padrão. O dos textos escritos neste 2025 que vai se encerrando não é um padrão bonito, não. Um padrão que dói.
Quando comecei a escrever em janeiro, ainda acreditava que era possível nomear as coisas pelo que realmente são. Que, se dissesse “censura”, a censura poderia seguir calando e inibindo por aí – e seguiu fazendo –, mas não vencerá enquanto houver quem a chame pelo nome. Que, se dissesse “autoritarismo”, o autoritarismo até poderia se fingir de democracia, mas não sem espumar de raiva cheia de palavras maiúsculas e pontos de exclamação. Não fui ingênuo achando que isso traria resultados. Sou apenas teimosamente esperançoso.
Ao longo desses 12 meses, girei em torno de cinco obsessões que não consigo abandonar.
Primeira: a liberdade de expressão está morrendo e, embora muitos tentem salvá-la, ainda somos poucos. Segunda: as palavras estão sendo torturadas para significar o inverso do que significam. Terceira: é preciso registrar, sempre, porque o esquecimento é a morte em câmera lenta. Quarta: ainda existe fé, ainda existe Deus, ainda existe a possibilidade de nos ajoelharmos diante de algo maior que nossas miseráveis certezas. Quinta: a cultura salva. O futebol, a música, o cinema, a literatura, tudo aquilo que não serve para nada é exatamente o que nos torna humanos.
Só se escreve por amor, não só ao que amamos, também ao que perdemos, ao que queremos salvar, ao que queremos denunciar
Escrevi demais sobre Alexandre de Moraes e sobre a Supremocracia. Escrevi também sobre a ministra Cármen Lúcia que inventou o “ódia” e sobre a vingança das palavras maltratadas. Escrevi sobre Dreyfus e Émile Zola, porque precisava lembrar que houve um tempo em que as pessoas tinham coragem de não aceitar a mentira. Escrevi sobre Charlie Kirk, que no presente ousava dizer “prove que estou errado” e foi assassinado por pedir isso.
Escrevi sobre o retorno do meu Athletico Paranaense à Série A, porque é preciso celebrar a vida. Também escrevi sobre a morte, várias vezes. De amigos queridos, como Sarah e Bernardo, como Alexey, mas também de famosos, como o papa dos meus lutos, Francisco. Porque lembrar é um gesto de amor. Escrevi sobre a adultez que os adultos perderam. Escrevi sobre os Legendários e sobre a busca por Deus em retiros evangélicos, porque a fé não é monopólio de ninguém e porque o sagrado insiste em aparecer onde menos esperamos.
VEJA TAMBÉM:
E escrevi sobre a cultura. Sobre David Lynch e o cortador de grama. Sobre Stranger Things como metáfora para o sofrimento adolescente. Sobre como o streaming pode unir o que as redes sociais separaram. Porque, se há algo que confirmei pela milésima vez em 2025, é que a arte não é luxo, mas necessidade. É o que nos salva de virar pedra.
Quando olho para trás, para essas mais de 50 colunas escritas em 2025, vejo um retrato. Não é um retrato bonito. É o retrato de alguém que está assustado com o presente, que está em luto pelo passado, que está lutando para manter a fé para o futuro. Reconheço alguém furioso com a injustiça, mas que ainda acredita, teimosamente e contra toda evidência, que escrever importa. Que o registro importa. Que a memória importa. Que a cultura importa.
Tem uma frase que não consigo tirar da cabeça. Disse em uma coluna sobre futebol: “Só se escreve por amor”. É muito verdade. Só se escreve por amor, não só ao que amamos, também ao que perdemos, ao que queremos salvar, ao que queremos denunciar. Só se escreve porque acreditamos, no fundo, que alguém está lendo. Que alguém vai entender. Que alguém vai se sentir menos sozinho. Um feliz Natal, amigo leitor, e desejo para o seu 2026 o mesmo que desejei para este 2025: que a vida desabe sobre você.