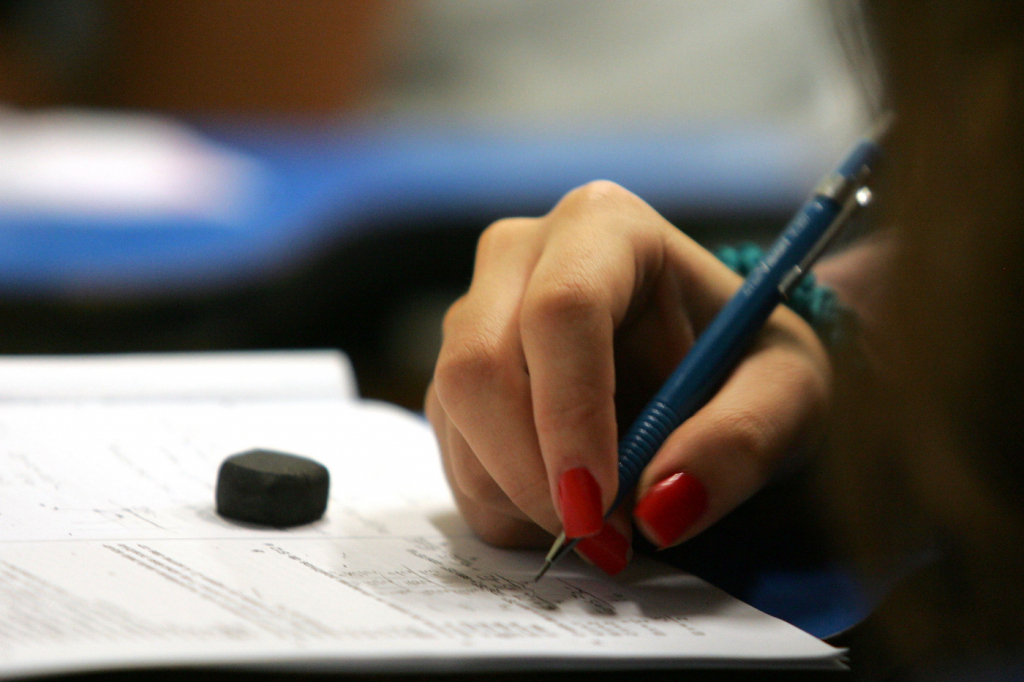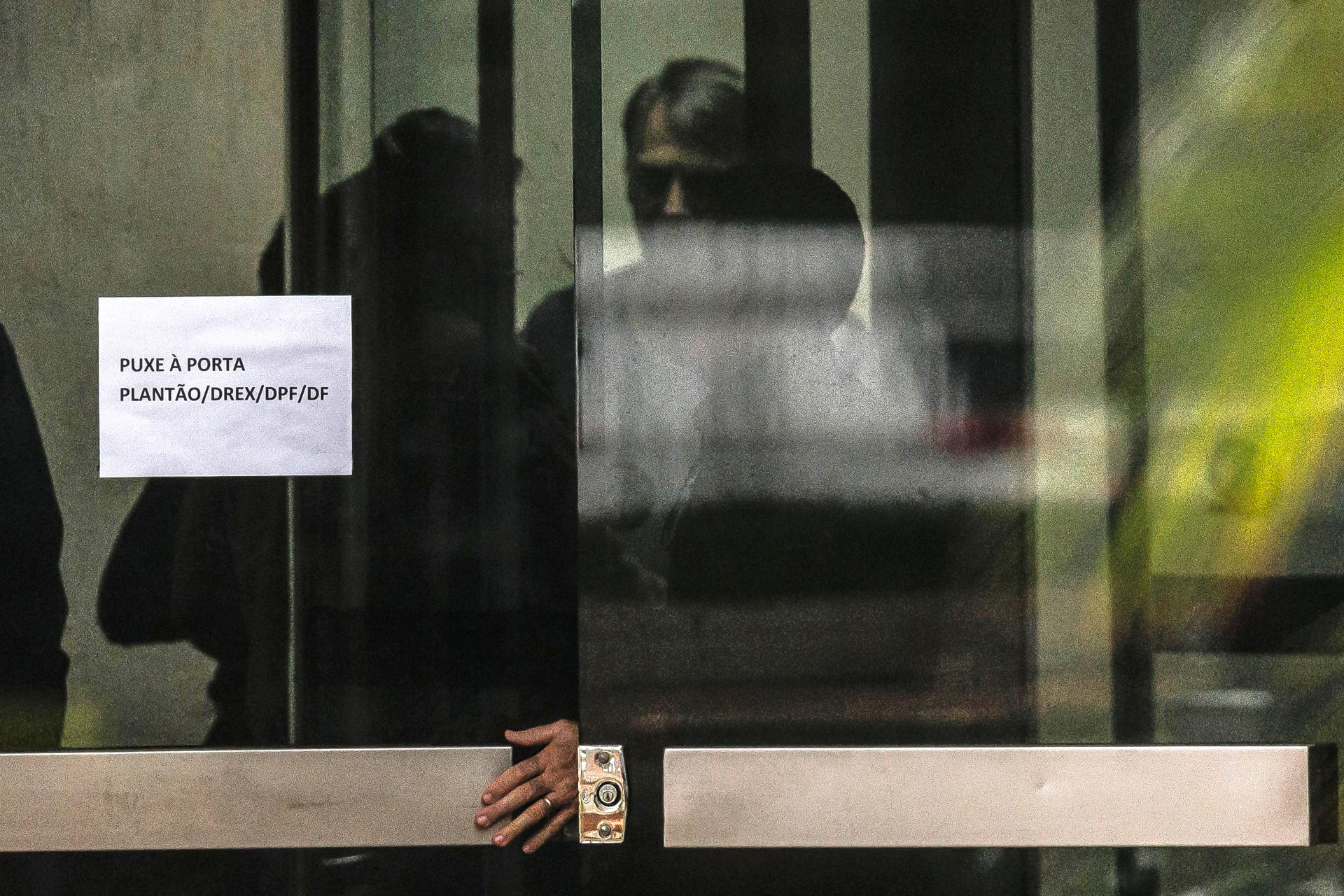Ouça este conteúdo
Em um momento histórico no qual a religião parece ser debatida mais no plano político e cultural do que no filosófico, é curioso perceber que algumas das mais antigas discussões intelectuais da humanidade continuam em pleno vigor. A ascensão do chamado novo ateísmo (que apresenta o ateísmo não apenas como ausência de crença, mas como projeto ativo de crítica à fé) trouxe de volta à esfera pública uma pergunta que jamais perdeu relevância: há boas razões para acreditar em Deus?
A maior parte dos porta-vozes do novo ateísmoessa corrente, como Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens, preferiu combater a religião a partir de seus efeitos sociais: conflitos, dogmatismos, abusos históricos. Menos atenção foi dada a um terreno mais desafiador, que é o das razões filosóficas clássicas que sustentam a existência de Deus. Mas o filósofo, teólogo e apologista cristão norte-americano William Lane Craig propõe que, antes de olharmos para os erros dos religiosos, é preciso considerar a questão da existência de Deus e se ela tem fundamento racional ou não.
Nós selecionamos alguns argumentos que Craig (doutor em Filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e em Teologia pela Universidade de Munique) costuma apresentar em seus livros, artigos e palestras. Há outros argumentos que o autor elenca em suas obras, mas esses seis resumem bem a consistência da lógica de seu pensamento.
Antes de tudo, é preciso entender se um argumento racional é bom. Para descobrirmos isso, precisamos olhar para duas coisas. Primeiro: a lógica. Em um argumento, se as ideias (premissas) estiverem organizadas do jeito certo, a conclusão deve vir automaticamente. Isso se chama validade lógica, que é quando a conclusão decorre naturalmente das premissas. Segundo: as premissas precisam fazer sentido. Mais do que isso, elas precisam ser verdadeiras (ou pelo menos mais verdadeiras do que suas negações).
Vamos aos argumentos.
1) O argumento da contingência
1. Tudo o que existe tem uma explicação para sua existência, seja por necessidade de sua própria natureza ou por uma causa externa.
2. Se o universo tem uma explicação para sua existência, essa explicação é Deus.
3. O universo existe.
4. Portanto, o universo tem uma explicação de sua existência (a partir de 1, 3).
5. Portanto, a explicação da existência do universo é Deus (de 2, 4).
O argumento da contingência parte da ideia de que tudo o que existe deve ter uma explicação, seja porque existe por necessidade própria (como muitos filósofos dizem sobre números e entidades matemáticas), seja porque foi causado por algo externo. Craig usa a imagem de uma esfera encontrada na floresta: ninguém aceitaria que ela simplesmente “está ali sem explicação”. E aumentar o tamanho da esfera até chegar ao tamanho do universo não eliminaria essa necessidade de explicação. Dizer que “tudo no universo tem explicação, menos o universo” seria cometer a “falácia do táxi”: usar um princípio enquanto é conveniente e descartá-lo quando ele atrapalha a conclusão desejada. Assim, a premissa de que tudo tem uma explicação é vista como mais plausível do que sua negação.
Ele então argumenta que, se o universo tem uma explicação, essa explicação deve ser algo fora do espaço, do tempo e da matéria, já que o universo inclui tudo isso. As alternativas seriam apenas duas: ou uma entidade abstrata (como um número) ou uma mente imaterial. Porém, objetos abstratos não podem causar nada. Afinal, um número não produz efeitos. Isso deixa apenas a hipótese de uma mente transcendente, algo pessoal e intencional. Craig observa que muitos ateus, sem perceber, acabam concordando com essa premissa ao dizer que, “se o ateísmo é verdadeiro, o universo não tem explicação”. Essa frase, reorganizada, significa exatamente o que a premissa 2 afirma: “se o universo tem uma explicação, então o ateísmo é falso”.
A conclusão, portanto, segue logicamente das três premissas: o universo existe; tudo o que existe tem uma explicação; e, se o universo tem uma explicação, essa explicação é Deus. Assim, se as premissas forem verdadeiras — e elas são mais plausíveis do que suas negações —, então Deus é a causa necessária, não causada, eterna e imaterial que explica a existência de tudo. Craig ainda observa que autores como Richard Dawkins simplesmente não enfrentam esse argumento de forma direta, apesar de sua importância histórica e de sua defesa por diversos filósofos contemporâneos.
2. Argumento Cosmológico Kalam
1. Tudo o que começa a existir tem uma causa.
2. O universo começou a existir.
3. Portanto, o universo tem uma causa.
A primeira premissa é intuitiva, pois ninguém acredita que coisas surjam do nada, sem motivo. Negá-la seria afirmar que objetos poderiam aparecer espontaneamente, sem causa alguma, o que contraria toda a experiência humana e toda a lógica básica. Sempre que vemos algo começar a existir, buscamos uma explicação, e sempre encontramos uma causa que o antecede.
A segunda premissa (de que o universo teve um começo) é apoiada tanto por argumentos filosóficos quanto por evidências científicas. Filósofos mostram que não pode haver um passado infinito de eventos, porque um infinito real não pode existir concretamente, e uma sequência infinita de acontecimentos jamais poderia ser “percorrida” até chegar ao presente. A ciência corrobora esse raciocínio por meio do Big Bang: segundo a teoria mais aceita, espaço, tempo, matéria e energia tiveram origem há cerca de 13,7 bilhões de anos. Além disso, o teorema Borde-Guth-Vilenkin demonstra que qualquer universo em expansão, mesmo dentro de um possível multiverso, precisa ter tido um começo. A própria termodinâmica reforça isso: se o universo fosse eterno, já estaria completamente esgotado de energia utilizável, o que não é o caso.
Dessas duas premissas segue-se logicamente que o universo precisa ter uma causa. Essa causa, porém, não pode ser parte do próprio universo, já que espaço, tempo e matéria surgiram no Big Bang. Portanto, ela deve ser atemporal, imaterial, não espacial, extremamente poderosa e sem início. Mais que isso: deve ser pessoal. Uma causa impessoal, como uma lei física, não poderia produzir um efeito temporal “de repente”, já que leis operam de modo automático e constante. Para que um universo temporal surja a partir de uma causa eterna e imutável, é necessário um ato livre, uma decisão — algo que apenas uma mente pode realizar.
É por isso que Craig afirma que a explicação mais racional para o começo do universo é um Criador pessoal e transcendente. Críticas como as de Richard Dawkins não contestam as premissas do argumento, mas apenas reclamam que ele não prova outros atributos de Deus. Mas o kalam — nome dado em homenagem aos seus defensores muçulmanos medievais (kalam é a palavra árabe para teologia) — não pretende demonstrar tudo; apenas estabelece que há uma causa não física, eterna e pessoal que trouxe o universo à existência. E, segundo Craig, chegar até aqui já é avançar muito mais do que qualquer posição ateísta consegue explicar sobre a origem de todas as coisas.
3) O argumento moral baseado em valores e deveres morais
1. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem.
2. Valores e deveres morais objetivos existem.
3. Portanto, Deus existe.
O argumento moral parte de duas distinções fundamentais: valores dizem respeito ao que é bom ou mau, enquanto deveres dizem respeito ao que é certo ou errado; e ambos podem ser entendidos como objetivos (independentes da opinião humana) ou subjetivos (dependentes dela). Com isso em mente, o raciocínio afirma que, sem Deus, não haveria fundamento para valores e deveres morais que valessem universalmente, já que, em um universo puramente naturalista, seríamos apenas produtos da evolução e do condicionamento social. Ainda assim, a maioria das pessoas — inclusive muitos ateus — vive como se houvesse ações realmente certas e erradas, independentemente do que alguém pense, o que implica que acreditam na existência de moralidade objetiva.
Richard Dawkins, por exemplo, ilustra essa tensão. Ele afirma em “Deus, um delírio” que, do ponto de vista naturalista, não existe bem, mal ou propósito, apenas “indiferença sem sentido”. No entanto, em sua prática argumentativa, ele faz fortes julgamentos morais: condena abusos, critica doutrinas religiosas, exalta a compaixão e repudia injustiças. Esses juízos são expressos como se tivessem validade objetiva, e não como meras preferências pessoais, o que contradiz sua própria visão de que a moralidade é apenas um subproduto da evolução. Assim, ele parece aceitar simultaneamente as duas premissas do argumento moral: a de que, sem Deus, não haveria moral objetiva, e a de que a moral objetiva realmente existe. Nesse caso, a conclusão de que Deus existe se impõe logicamente.
Um dos principais desafios levantados contra esse argumento é o famoso “Dilema de Eutífron”, segundo o qual ou algo é bom apenas porque Deus ordena — tornando o bem arbitrário — ou Deus ordena algo porque ele já é bom — tornando o bem independente de Deus. Mas essa formulação ignora uma terceira alternativa: Deus não cria o bem arbitrariamente, nem responde a um padrão acima dele; Ele é o próprio padrão do bem. Sua natureza — justa, amorosa, compassiva — constitui o fundamento dos valores morais, e seus mandamentos expressam essa natureza a nós. Assim, o bem não é arbitrário, porque deriva do caráter imutável de Deus, e não é independente dele, porque esse caráter é a própria realidade última.
Por isso defensores do argumento moral, como Craig, Robert Adams e William Alston, sustentam que a moralidade objetiva faz sentido apenas se houver um fundamento transcendente que torne valores e deveres mais do que produtos culturais ou biológicos. Quando reconhecemos que ações como genocídio, tortura, discriminação e abuso infantil são realmente erradas, independentemente da cultura, da época ou da opinião de qualquer pessoa, estamos afirmando uma realidade moral objetiva que exige uma base ontológica sólida. O argumento conclui que a melhor explicação para essa base é Deus, cuja natureza define o bem e cuja autoridade fundamenta nossos deveres.
4) O argumento teleológico do ajuste fino do Universo
1. O ajuste fino do universo é resultado de necessidade física, acaso ou design.
2. O ajuste fino do universo não é resultado de necessidade física nem de acaso.
3. Portanto, o ajuste fino do universo é resultado de design.
A ideia central do argumento teleológico baseado no ajuste fino é que o universo possui condições iniciais extraordinariamente delicadas que permitem a existência de vida inteligente. Isso não significa assumir que ele foi “projetado” logo de início. Isso seria cometer um erro lógico. Significa apenas reconhecer que pequenas alterações em constantes fundamentais da física ou em condições iniciais do cosmos tornariam impossível qualquer forma de vida. Força da gravidade, nível de entropia, proporção entre matéria e antimatéria e outras grandezas poderiam ter assumido inúmeros valores possíveis, mas acabaram exatamente dentro de uma faixa minúscula que permite vida.
Diante desse cenário, três possíveis explicações são apresentadas: necessidade física, acaso ou design. A hipótese da necessidade física sugere que as constantes do universo não poderiam ser diferentes do que são, mas isso é improvável, porque as leis da natureza não determinam seus valores específicos — teorias como a do multiverso em cordas mostram que muitos universos possíveis poderiam existir com as mesmas leis, mas com constantes diferentes. A segunda hipótese, o acaso, também é difícil de sustentar, pois as probabilidades de um universo permitir vida são absurdamente pequenas, tão pequenas que seria irrazoável dizer que tudo simplesmente “aconteceu” dessa forma por sorte.
Para salvar a hipótese do acaso, alguns defendem a existência de um multiverso composto por uma quantidade gigantesca ou até infinita de universos, entre os quais pelo menos alguns teriam, por pura sorte, as condições adequadas à vida, e nós simplesmente estaríamos em um deles. Dawkins simpatiza com essa explicação, mas ela enfrenta desafios. Além de postular entidades em número descomunal, o que fere o critério da parcimônia, ainda depende de um mecanismo simples e plausível que gere todos esses universos. Mas tal mecanismo está longe de ser estabelecido. Além disso, multiplicar universos não resolve a improbabilidade das condições necessárias, apenas a desloca para outro nível, sem explicar por que o mecanismo gerador teria propriedades tão específicas.
Assim, se o ajuste fino não se explica nem pela necessidade física nem pelo acaso, resta a hipótese de que ele seja resultado de design — isto é, de uma mente inteligente que estabeleceu condições adequadas para a existência de vida. Essa conclusão não exige rejeitar a ciência, mas assumir que a melhor explicação para o nível extremo de precisão observado no universo é intencionalidade, e não mera sorte ou inevitabilidade física.
5) Argumento ontológico (se Deus é possível, então é necessário)
1. É possível que exista um ser maximamente grande (um ser que é maximamente grande).
2. Se é possível que esse ser exista, então ele existe em pelo menos um mundo possível.
3. Se ele existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis (porque um ser maximamente grande, por definição, não pode existir só parcialmente).
4. Se ele existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo real.
5. Portanto, um ser maximamente grande (Deus) existe.
O argumento ontológico talvez seja o mais peculiar entre todos os argumentos apresentados por Craig, porque não se baseia em dados do universo físico, nem em moralidade, nem em eventos históricos. Ele trabalha apenas com ideias e lógica. Sua força está justamente na afirmação surpreendente, embora aceita por muitos filósofos contemporâneos, de que, se for possível que Deus exista, então Ele existe de fato. Essa formulação moderna deriva sobretudo de Alvin Plantinga, que retoma a intuição original de Anselmo, mas a traduz para a linguagem da lógica modal, o ramo da filosofia que estuda aquilo que é possível, necessário ou contingente.
Para entender o argumento, Craig explica primeiro o que são “mundos possíveis”. Eles não são outros planetas ou universos paralelos, mas descrições completas de como a realidade poderia ser. Em um mundo possível, encontramos uma listagem exaustiva de todas as proposições verdadeiras naquele cenário hipotético. Em um desses mundos — o mundo real — as proposições são todas verdadeiras. Nas demais, dizemos apenas que poderiam ter sido verdadeiras. Por exemplo, a proposição “McGovern é presidente dos EUA” não é verdadeira no nosso mundo, mas é perfeitamente possível em outro. Já a proposição “o primeiro-ministro é um número primo” não pode ser verdadeira em nenhum mundo possível, pois envolve uma contradição entre categorias. Assim, um mundo possível é apenas um jeito coerente como a realidade poderia ser.
Com isso em mão, Plantinga define Deus como um ser de “grandeza máxima”: alguém que possui excelência máxima em todos os mundos possíveis, isto é, sabedoria infinita, poder absoluto e perfeição moral em qualquer realidade concebível. Um ser assim, se puder existir em algum mundo possível, precisa existir em todos eles, porque sua natureza é necessária. E, se existir em todos, então existe também no mundo real. A controvérsia, portanto, recai inteiramente sobre o primeiro passo: é realmente possível que esse ser exista?
Craig defende que sim, porque o conceito de “Deus maximamente grande” parece coerente. Não soa contraditório como “bombeiro casado-solteiro” ou “círculo quadrado”. Para rejeitar o argumento, o ateu precisaria mostrar que a própria ideia de Deus é incoerente, e não apenas improvável ou improvada, mas logicamente impossível. Richard Dawkins tenta ridicularizar a proposta com paródias, sugerindo que se poderia provar do mesmo modo que “porcos voadores” ou “um criador que não existe” existem. Entretanto, essas paródias falham porque apresentam conceitos contraditórios: um ser que cria o mundo mas não existe é logicamente impossível. Não existe em nenhum mundo possível. Para invalidar o argumento, o ateu precisaria demonstrar contradição semelhante no conceito de Deus, e isso nunca foi estabelecido.
Assim, o peso do argumento não está em uma evidência empírica, mas na coerência lógica do próprio conceito de Deus. Se for plausível pensar que um ser perfeito poderia existir, então segue-se que ele existe.
6. O argumento da aplicabilidade matemática
1. Se Deus não existisse, a aplicabilidade da matemática seria apenas uma coincidência improvável.
2. Mas essa aplicabilidade não parece ser mera coincidência.
3. Portanto, é mais razoável concluir que Deus existe.
O físico Eugene Wigner chamou de “irracional” o fato de a matemática funcionar tão bem para descrever o mundo físico. E esse espanto não é exagero: basta pensar em Peter Higgs, que simplesmente analisou equações em seu escritório e, a partir delas, previu a existência de uma partícula que só seria detectada 30 anos depois, com tecnologia avançadíssima e milhares de horas de trabalho experimental. Como coisas tão abstratas como números, funções, teoremas, objetos que não têm massa, cor ou localização podem antecipar com tanta precisão o comportamento da realidade material?
Esse problema se agrava quando lembramos que entidades matemáticas são abstratas e, portanto, causalmente isoladas do mundo físico. Isso significa que elas não interagem com a matéria: um número não empurra uma partícula, um teorema não curva o espaço-tempo. Se tudo isso é verdade, então a correspondência entre matemática e natureza deveria ser um gigantesco acaso. A filósofa Mary Leng chega a dizer que, para o naturalismo, a aplicabilidade da matemática é “uma feliz coincidência”. Mas coincidências desse tamanho, repetidas em todos os níveis da física, da química e da engenharia, parecem improváveis demais.
O teísmo oferece uma alternativa mais intuitiva: se Deus criou o universo, Ele o estruturou conforme as mesmas ideias matemáticas que já estavam em Sua mente. Nesse caso, a matemática funciona tão bem porque o mundo foi projetado de modo matemático desde o início. A natureza fala matemática porque foi escrita em matemática.
Para Craig, esses argumentos compõem um edifício racional robusto. Mesmo após décadas de críticas dos novos ateístas, nenhum deles foi refutado de maneira convincente, e todos permanecem como propostas sérias e defensáveis dentro do debate filosófico contemporâneo. Tomados em conjunto, esses argumentos não pretendem “provar Deus” de forma matemática, como quem demonstra um teorema. A proposta de Craig (e de grande parte da filosofia da religião contemporânea) é mostrar que crer em Deus é uma posição intelectualmente respeitável e, em muitos aspectos, mais coerente com as evidências da realidade do que o ateísmo.
Em tempos marcados pela superficialidade dos debates sobre fé, esses argumentos recuperam uma dimensão esquecida: a pergunta sobre Deus continua sendo, antes de tudo, uma pergunta filosófica. E, ao contrário do que pregou parte do novo ateísmo, ela está longe de ter sido encerrada.
Esse problema se agrava quando lembramos que entidades matemáticas são abstratas e, portanto, causalmente isoladas do mundo físico. Isso significa que elas não interagem com a matéria: um número não empurra uma partícula, um teorema não curva o espaço-tempo. Se tudo isso é verdade, então a correspondência entre matemática e natureza deveria ser um gigantesco acaso. A filósofa Mary Leng chega a dizer que, para o naturalismo, a aplicabilidade da matemática é “uma feliz coincidência”. Mas coincidências desse tamanho, repetidas em todos os níveis da física, da química e da engenharia, parecem improváveis demais.
O teísmo oferece uma alternativa mais intuitiva: se Deus criou o universo, Ele o estruturou conforme as mesmas ideias matemáticas que já estavam em Sua mente. Nesse caso, a matemática funciona tão bem porque o mundo foi projetado de modo matemático desde o início. A natureza fala matemática porque foi escrita em matemática.
Para Craig, esses argumentos compõem um edifício racional robusto. Mesmo após décadas de críticas dos novos ateístas, nenhum deles foi refutado de maneira convincente, e todos permanecem como propostas sérias e defensáveis dentro do debate filosófico contemporâneo. Tomados em conjunto, esses argumentos não pretendem “provar Deus” de forma matemática, como quem demonstra um teorema. A proposta de Craig (e de grande parte da filosofia da religião contemporânea) é mostrar que crer em Deus é uma posição intelectualmente respeitável e, em muitos aspectos, mais coerente com as evidências da realidade do que o ateísmo.
Em tempos marcados pela superficialidade dos debates sobre fé, esses argumentos recuperam uma dimensão esquecida: a pergunta sobre Deus continua sendo, antes de tudo, uma pergunta filosófica. E, ao contrário do que pregou parte do nNovo aAteísmo, ela está longe de ter sido encerrada.