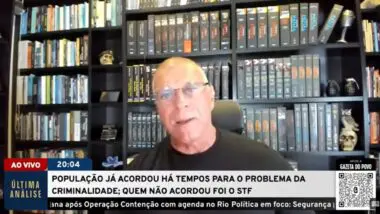Ouça este conteúdo
Em 28 de outubro, o Rio de Janeiro parou. Sob o comando do governador Cláudio Castro (PL-RJ), uma das maiores operações policiais da história do estado transformou as comunidades em cenário de fogo cruzado. O saldo: 113 presos, 121 pessoas mortas (sendo quatro delas policiais) e uma cidade dividida entre o medo e a esperança de paz.
O governo deu uma resposta firme contra o avanço do crime organizado. Mas até que ponto o “necessário” pode justificar o “letal”?
Choveram críticas na internet e nas mídias progressistas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR) classificou a operação como “horrível” e exigiu uma investigação imediata, independente e completa sobre o caso.
Do outro lado, apoiadores da ação defenderam que uma escala deste tipo era necessária para finalmente abalar o poder do Comando Vermelho nas favelas e mostrar que o Estado é capaz de restabelecer a ordem.
Nesse contexto, se aplicássemos ao Rio o antigo conceito de “guerra justa”, nascido para medir a moralidade dos conflitos entre nações, ele sobreviveria ao teste? Ou descobriríamos que, em nome da ordem, o Estado também cruzou a linha que separa a justiça da barbárie?
A letalidade do crime organizado
Antes de apresentar o debate teórico da questão, é importante destacar a crueldade do crime organizado no Rio de Janeiro.
Só em 2024, dados oficiais do estado registraram 2.930 homicídios dolosos. A letalidade é consequência das disputas entre facções e grupos armados que controlam territórios e rotas do tráfico.
Somado a isso, os confrontos entre criminosos afetam as rotinas mais básicas como saúde e educação. Só em 2023, a Região Metropolitana teve 460 tiroteios nas proximidades de escolas, alcançando 725 unidades impactadas. Aulas e serviços de saúde são interrompidos com frequência em territórios sob disputa.
Na favela da Maré, por exemplo, 20 mil estudantes perderam 26 dias de aula em sete meses de 2024 por causa de tiroteios. Boletins de ONGs locais registram mortes e dias de serviços públicos suspensos.
O tráfico de drogas é só uma parte do negócio. As facções também controlam jogos de azar, extorquem moradores e comerciantes, cobram por serviços básicos como luz, água, internet e gás, traficam armas e, cada vez mais, aplicam golpes digitais — muitos planejados e executados de dentro das prisões.
Mesmo quem não consome a droga traficada vive cercado pela criminalidade e os CNPJs de fachada criados para lavar dinheiro da atividade ilegal. O crime organizado torna-se um parasita que cresce e se alimenta do ecossistema econômico.

Na megaoperação recente, a polícia apreendeu 93 fuzis e mais de meia tonelada de drogas, segundo dados oficiais do estado. Essas armas podem atingir alvos com precisão a 600 ou 800 metros de distância, perfurar as paredes das casas, mesmo de alvenaria, e são tão potentes que podem causar a morte de pessoas mesmo que órgãos vitais não sejam atingidos.
Além da letalidade, o arsenal evidencia o poder econômico das facções, já que cada fuzil pode custar de R$ 30 mil e R$ 80 mil no mercado ilegal. Segundo o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, “Essas armas de guerra são usadas contra os policiais, mas também contra a população”.
Ou seja, como o Estado pode deter o monopólio da força e o império da lei se a sociedade está refém de milícias que se digladiam entre si?
O que diriam os filósofos antigos?
O debate sobre quando é legítimo usar a força vem de longa data. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão e Aristóteles não só observavam a guerra como fenômeno político, mas também tentavam entender os limites morais da violência.
Platão, em A República, sugere que os guardiões da cidade deveriam defender a ordem com firmeza, mas sempre sob a luz da justiça. Para ele, “a justiça consiste em cada um ocupar o lugar que lhe é devido”.
Aristóteles, em Política, é ainda mais claro sobre o papel do Estado: garantir o bem comum. Ele aceita o uso da força, mas desde que seja feito com prudência e voltado à preservação da vida humana. Como ele escreveu, “devemos empreender a guerra para viver em paz”.
Já Heráclito, com uma visão mais dura e realista, via a guerra como inevitável: “A guerra é o pai de todos”, dizia ele. Na lógica do filósofo, o choque de opostos — Estado e crime organizado, por exemplo — faz parte da própria realidade.
Quando a força é legítima
A teoria da “guerra justa” nasceu séculos depois dos gregos, com pensadores cristãos. No século IV, Santo Agostinho foi um dos primeiros a dizer que, apesar de indesejável, a guerra pode ser moralmente legítima quando busca restaurar a paz e a justiça. "A paz deve ser o objetivo de toda a guerra", escreveu ele.
Santo Tomás de Aquino, no século XIII, organizou essa ideia em critérios que ajudariam a determinar quando a guerra é aceitável. Deve haver uma causa realmente grave; a autoridade que declara a guerra deve ser legítima; e a intenção precisa ser restaurar a paz, não obter vantagem. Além disso, a guerra só pode ser o último recurso, deve ser proporcional e não pode atingir inocentes.
Aplicando esses critérios ao caso do Rio, é possível dizer não haveria outro recurso proporcional para desmantelar as estruturas criminosas.
De acordo com a Polícia Civil, 109 corpos já foram identificados, e, pelo menos 78 dos mortos tinham histórico de crimes graves, incluindo homicídios e tráfico de drogas. Mais da metade dos suspeitos era de outros estados, confirmando que as favelas cariocas se tornaram o quartel-general do Comando Vermelho.
Segundo pesquisa AtlasIntel, 87,6% dos moradores de favelas do Rio aprovaram a operação. Se quase 90% dos moradores das regiões mais atingidas pelo crime aprovam a operação do governo do Estado, os civis foram os mais protegidos.
A operação, portanto, foi moralmente justa. Havia uma ameaça real e armada, a ordem partiu de uma autoridade legítima (o estado), e o objetivo declarado era proporcional: devolver paz a áreas tomadas pelo crime.
Guerras “justas” na história
Há guerras que, mesmo trágicas, foram moralmente justificáveis. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a defesa da Polônia diante da invasão nazista em 1939 foi um ato legítimo de resistência contra uma agressão brutal.
Da mesma forma, em 1991, a coalizão internacional que expulsou o Iraque do Kuwait agiu diante de um fato incontestável: um país soberano havia sido invadido, e sua população, ameaçada.
Outro episódio marcante foi a Guerra de Inverno de 1939, quando a pequena Finlândia enfrentou o comunismo soviético da URSS. O país lutou apenas para sobreviver, um exemplo puro de legítima defesa.
Mas e se os Estados Unidos não tivessem entrado na Segunda Guerra? É provável que Hitler tivesse avançado ainda mais, ampliando o domínio nazista e multiplicando o número de vítimas inocentes.
Esses casos mostram que a ideia de “guerra justa” nasce da necessidade de conter o mal quando ele ameaça a vida, a liberdade e os valores da sociedade. Como no caso atual no Rio de Janeiro, combater o crime é dever moral do Estado.
O que essa operação revela é que o Rio precisa de paz, não de apatia.